Bertrand Russell e Freud contra o dogmatismo religioso e a falsa ética cultural
Além do caminho pelo qual formularam suas literaturas, Bertrand Russell e Sigmund Freud possuem em comum também a admiração de Albert Einstein, que lhes dedicou capítulos exclusivos em sua autobiografia. Ao lê-la, me veio a necessidade de relacioná-los em uma só postagem.
Einstein considerava Russell um dos poucos escritores científicos que lhe proporcionou momentos de satisfação, enquanto que a "paixão pela verdade" era uma das características que o físico atribuía a Freud, e a relação que o psicanalista fazia entre os instintos de luta e a afirmação da vida enchiam os olhos de Einstein.
Russell sempre utilizou-se da pertinência lógica para analisar conflitos, conceitos e visões. A ideia de impulso criativo e impulso possessivo muito lhe aproxima de Freud, que parece ser um espelho para alguns de seus escritos.
Em "No que Acredito", o filósofo nos brinda com um resumo de suas conclusões sobre religião, moral e ética. Suas posições, muitas vezes, vão de encontro com o que Freud escreveu em "Mal-estar na Civilização" e "Futuro de uma Ilusão", duas das principais aulas sobre o pensamento humano desejante.
Havia uma ênfase que Russell atribuía ao humanismo como uma substância intrínseca, que em nada dependia do moralismo de sua época e da pretensiosa "filosofia de valor". Ele tratava o valor como algo submisso ao arbítrio humano, e não o contrário. Sua posição abria espaço para um questionamento acerca da inflexibilidade dos ditames culturais das regras, da noção antisecular de perduração, contrária ao princípio moderno de adaptação.
Russell sempre buscava uma confluência entre as hipóteses, e, como bom cientista, preferia assumir ideias que eram menos improváveis a priori. Essa metodologia embasa seus princípios ao longo de sua literatura.
Com tal pensamento em mente, Russell contesta se a substância religiosa, a alma, se fez como algo uno, como assim tratava a literatura teológica, e não como algo construído organizacionalmente, como assim ele entendia a estrutura dos conceitos físicos e metafísicos, possuindo uma ligeira similaridade com o existencialismo do século XX, que nos leva para concepção construtiva do ser humano, em vez da pré-definição cristã de essência.
Sua aproximação de Freud também se dá no que concerne ao respeito pelos instintos humanos. Russell dizia que "devemos assumir um certo princípio fundamental de vitalidade e instinto animal". Sem ele, completa o filósofo, "a existência se tornaria insípida e monótona".
Somando os instintos ao tema da fé, Freud aponta que os sacerdotes apenas puderam conservar a submissão das massas à religião na medida em que fizeram grandes concessões à natureza impulsional do homem. O crente pecador não deixa de ser menos crente porque peca, mas se salva pela penitência arbitrária do sacerdote.
O humanismo em Russell ameaçado pelos instintos em Freud
Como profundo humanista que era, Russell observava as mais distintas nuances do amor, e definia a interligação do amor com o conhecimento como a única forma possível de não apenas possuir o amor em si, mas sim de praticá-lo e alcançá-lo de maneira indistinta. Para ele, a vida virtuosa era "guiada pelo conhecimento e inspirada pelo amor".
Um dos exemplos utilizados pelo filósofo, que representa o oposto da sua definição de vida virtuosa, nos chama a atenção por sua relevância: o fato de que, no período da peste, os sacerdotes uniam pessoas para orar pela salvação em meio àquele período, e acabavam por proliferar a doença de maneira extraordinária, mesmo que suas intenções fossem diferentes. Eis aí um exemplo de amor sem conhecimento.
Além da abordagem de tal desconhecimento, o autor navega sobre possíveis circunstâncias nas quais o amor é "comprado", imposto ou recompensado. O viés freudiano aqui é inevitável, especialmente quando Russell toca no que Freud tocou em "Mal-estar na civilização", quando o bruxo de Viena nos trouxe a noção de que o amor é possível em uma comunidade desde que haja outras pessoas para que se exteriorize a agressividade, o ódio.
Russell afirma claramente que aquilo que deveríamos desejar, o amor artificial, por assim dizer, não é senão o que os outros pretendem que desejemos, e a estrutura para tal é a necessidade de aprovação que a cultura, tão bem analisada por Freud, a nós parece imbuir.
Os dois, principalmente Freud, denotam a existência de uma espécie de evolução do pensamento amoroso.
Haveria a passagem do amor ingênuo e sem conhecimento, que Russell atestou, ao amor retributivo, aquele que precisamos para viver em comunidade, também chamado de "amor inibido na meta", termo cunhado por Freud, que delimitava o sentimento supostamente não sexual, que permitia à cultura a harmonia entre seus residentes.
A frase de Schiller citada por Freud em "Mal-estar na Civilização" resume bem: "a fome e o amor sustentam a máquina do mundo". A fome seria, de acordo com Freud, os instintos que querem manter o ser individual (conservação da espécie), enquanto o amor procura pelos objetos.
Segundo o psicanalista, "cada um de nós vive o momento em que deixa de lado, como ilusões, as esperanças que na juventude depositava nos semelhantes", isto é, o amor ingênuo dá lugar ao realismo ingênuo, a crença do senso comum de que aquilo que observamos é tal como o percebemos, tema este que Russell já havia discorrido sobre em uma outra oportunidade. A partir de então, o amor transforma-se na tal da liquidez, tão enunciada por Bauman.
O medo como ferramenta dogmática
Russell era um ferrenho defensor de que a inteligência humana deveria expandir seus horizontes para além do medo, escondido sobre o véu do respeito à natureza, às autoridades e às doutrinas religiosas. Nesse sentido, ele sempre procurava atrelar a motivação pela qual nos atiram o medo à ideia de inação, que condizia com a dominação dos propagadores desse medo.
O autor, assim como Freud, entendia que o medo da natureza dava origem à religião. E qualquer outra organização que funcione através da dominação busca fazer com que os indivíduos dependam dela. Montesquieu, certa vez, escreveu que os homens caem em desgraça quando aquele em quem confiam, procurando ocultar sua corrupção, busca também corrompê-los.
Como efeito, o medo é minado pela divindade e os desejos tomam seu lugar. Não seria coincidência, portanto, que as profecias religiosas sejam da maneira que desejamos que ela seja, e Freud complementa que "é característico da ilusão o fato de derivar de desejos humanos".
Daí nasceu uma outra significação de "neurose obssessiva", que Freud a estanciou para a religião. Para ele, a sensação de pertencer a uma neurose universal (religião) nos exime de possuir uma neurose pessoal, pelo menos assim acredita o homem religioso.
Admitindo que a fonte de tais corrompimentos se afinca no medo, Bertrand Russell elucida que é por esse pânico que se cometem as mais obstinadas crueldades, como, por exemplo, a de dominar uma suposta ameaça para minar o receio de ser dominado pelo mesmo. É esse medo que o moralista, munido de um espírito científico, deveria combater.
Nesse último exemplo, a legitimação da crueldade se dá pelo aspecto coletivo. Não se faz justiça individualmente, é preciso respaldo do todo social, e organizações, sejam elas políticas, religiosas, antireligiosas, constituem um meio para tal legitimação. (Aqui voltamos à concepção freudiana que citei anteriormente da hostilização coletiva e do ódio como combustível necessário para a união de determinada comunidade)
O lugar da religião e da ética na cultura
A razão é escrava das emoções, diria Hume. Com isso, Russell entende que usamos do conhecimento científico para saciar um desejo, e a ética surge como um pretenso juíz no meio do caminho.
Essa conclusão é facilmente direcionável ao entendimento de Maquiavel no Príncipe. Se os fins justificam os meios, dava a entender o italiano, é porque a ética não perpassou por esse meio. Depois desse destemor ético, surgiu a igreja com um discurso místico e punitivo que se confundia com uma ética. Não a toa, Russell enfatiza que os principais pilares do moralismo são o utilitarismo e, em maior parte, a superstição.
Nesse sentido, a ética é construída artificialmente, e tem inteira relação com o medo. Tanto é que Russell entendia a ética de uma perspectiva mais utilitária e, ao mesmo tempo, subordinada ao conhecimento científico.
Essa mesma perspectiva utilitária foi manejada com Freud em "Futuro de uma Ilusão", mas o psicanalista mergulhou mais a fundo na antropologia que sustentava os princípios morais que eram estabelecidos como verdades indubitáveis.
Freud intentava provar seu ponto de que os mandamentos culturais não deveriam ser revestidos como mandamentos religiosos, de modo que o cumprimento das leis sustentadoras da ordem corriam o risco de serem dependentes da fé do homem para serem acatadas, e, da mesma forma, outras leis culturais que não se adequassem ao pensamento religioso, por exemplo, teriam um respaldo divino para serem contestadas, e até violadas.
O autor nos leva a pensar que esse é talvez um dos preços que pagamos pelo desenvolvimento do mundo secular.
O florescer científico impõe à religião uma necessidade recorrente de ajustamento, como Freud dissera que quanto mais independente for a natureza, mais o âmbito moral se tornará o principal fator no qual se baseará a doutrina religiosa. Antes, era a de proteção, e agora ela se manejou de tal forma a focar boa parte da sua energia na moral e na recompensa posterior à vida. A moralidade se transforma, com o tempo, no único pilar controlável pelo dogmatismo.
O moralismo desmascarado
O falso moralismo, desse ponto de vista, parece ser mais uma tentativa do indivíduo de reprimir no próximo aquela liberdade que o apavora. Como o próprio Russell disse em seus resumos, o moralista não enxerga que atira no outro um sistema de recompensas e punições, que faz o homem "preferir prostitutas ocasionais a uma amante quase permanente", pois o que está em jogo são as aparências.
E é interessante pensar que Russell influenciou-se pela psicanálise freudiana, uma vez que o próprio Freud afirmou que o mal, muitas vezes, é desejado pelo ser humano, mas foi subjugado pela cultura, e posteriormente, pelo vigilante super-ego no próprio indivíduo.
Com isso, o autor de "Mal-estar na Civilização" concebe o primeiro estágio de desenvolvimento da culpa: o "medo de ser descoberto", o receio de perder o amor externo.
Mas acredito que a pior adversidade está no que foi dito um pouco antes. O fato de vestirmos muitas leis seculares com roupas da fé é de natureza perigosa, ainda mais se levarmos em conta o que Russell disse no tocante à moralidade como um mecanismo de satisfazer os desejos mais destrutivos.
...Para ele, muitos usavam da moral para legitimar o desejo de infligir sofrimento, sendo o pecador uma "caça legalizada". Por essa mesma razão, Russell acredita que "a salvação constitui um ideal aristocrático porque é individualista".
Freud ainda traz a ideia do ódio coletivo contra um transgressor das leis de Deus como um enfurecimento pelo desrespeito à entidade que nos protege das intempéries da natureza. É a ação do grupo contra algo ou alguém que ameaça a salvação individual de cada um.
Claro que essa é uma herança que adaptamos na lei secular, e não mais punimos um transgressor pela desobediência para com o divino, mas costumamos responder a violência com violência, ou ao menos desejar um fim violento para aquele que ocasiona o mal, por simples satisfação e vingança.
Tudo isso, claro, com o respaldo da moralidade, que se comporta nesse contexto específico como um aspecto sublimatório, conceito psicanalítico que autoriza o desbloqueio do que há de mais primitivo no sujeito, acarretando na suspensão temporária da lei a qual todos estamos submetidos, muitas vezes, ironicamente, em nome dessa mesma lei.
Russell condena esse costume em seus escritos, ressaltando novamente que a moralidade que o grupo social usa é um disfarce para o emprego da crueldade, e utiliza-se do caso do tratamento vingativo dado a um bandido como exemplo de tais atitudes.
O evolucionismo freudiano ou o ciclo civilizacional de Russell
Freud parece entender como inevitável a superação do estado religioso pelo cientificismo, e bem à moda de Auguste Comte. Mas para tal, haveria a necessidade da existência dessa fase "infantil", como o autor assim define.
O psicanalista traz à tona uma analogia entre a neurose obssessiva infantil, que é atenuada pelo recalque com o tempo, e a neurose obssessiva universal da humanidade, como falamos antes, a religião. Ela seria então uma parte inerente do processo de desenvolvimento antropológico, assim como a neurose é na criança.
Desse modo, para Freud, assim como a neurose na criança lhe é natural e passageira, a neurose universal da religião numa sociedade secularizada também o é.
Russell é mais analítico quanto a isso. Ele entende que o progresso civilizacional não é linear, rumo a um paraíso científico, como Freud parecia crer esperançosamente.
Em "Filosofia entre Ciência e Religião", Russell propõe uma espécie de loop de comportamentos na civilização.
Em geral, tudo começa por um sistema rígido e superstiscioso que, aos poucos, vai sendo afrouxado, e que conduz, em determinada fase, a um período de gênio brilhante, enquanto perdura o que há de bom na tradição antiga, e nao se desenvolveu ainda o mal inerente à sua dissolução. Mas quando o mal começa a manifestar-se, conduz à anarquia, e daí, inevitavelmente, a uma nova tirania, produzindo uma nova síntese, baseada num novo sistema dogmático.
O filósofo parece concordar com um dos objetores de Freud em "Futuro de uma Ilusão" que garantiu que mesmo sem a religião, as pessoas ainda iriam conceber alguma espécie de dogmatismo na mesma proporção.
E assim foi também, se me permitem fazer uso de uma outra literatura, o que confirmou Sartre em Existencialismo é um Humanismo, decretando que, ainda que se existisse um Deus, nada mudaria, de modo que uma sociedade não vive sem o estabelecimento de signos culturais, religiosos ou não. Voltaire também parecia concordar, mas, partindo do pressuposto da existência divina, entende que "se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo".

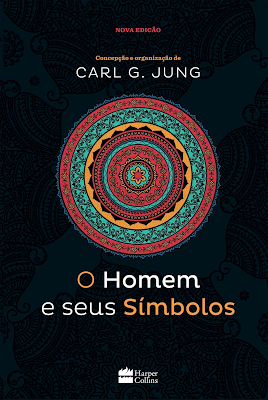

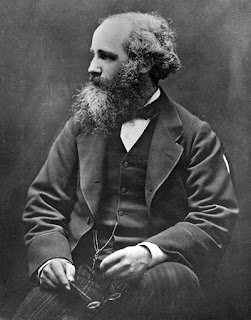
Comentários
Postar um comentário